Continuando a repercutir o texto do amigo e historiador Marcus Correia, publicado originalmente no portal Esquerda Online.
Abaixo a terceira parte (de quatro) do texto que discute a Fundação Ford. Para ler o post anterior, com as partes 1 e 2 do texto, clique aqui.
DISCUTINDO A FUNDAÇÃO FORD (PARTE 3/4)
por Marcus Correia | publicado originalmente em 22 dez. 2016 | Esquerda Online

No Brasil
Depois da Revolução Cubana, a política externa estadunidense voltou-se mais atentamente para a América Latina e, em particular, para o Brasil. A pretexto de conter a ameaça comunista internacional, o Departamento de Estado, a CIA, o Pentágono e grandes corporações patrocinaram uma série de regimes militares sanguinários por todo o continente. Foi nesse contexto que a Fundação Ford passou a atuar como organização “filantrópica” no Brasil, em 1961, abrindo um escritório no país ano seguinte, mesmo período em que também o fez no Chile e no México.
Dois elementos que foram abordados nas partes anteriores do artigo merecem atenção aqui. O primeiro deles é o fato de, à época, a Fundação Ford deter a maior parte das ações da Ford Motor Company, diferente do que comumente se pensa (Cf. Parte 1). Em 1962, por exemplo, a Fundação Ford era proprietária de mais de 50% das ações das indústrias Ford e sua principal controladora [1]. O segundo elemento refere-se à relação desenvolvida no pós-Guerra entre a Fundação e os órgãos de inteligência dos Estados Unidos. Como já foi mencionado, depois da Segunda Guerra Mundial, a maior parte dos altos funcionários da entidade eram ou tinham sido agentes, tinham ligações com agentes ou trabalhavam em profunda conexão com os órgãos de inteligência, com o Departamento de Defesa, com o Departamento de Estado e com o complexo indutrial-militar privado dos Estados Unidos (Cf. Parte 2).
No Brasil, desde 1962, alguns executivos da Ford Motor do Brasil estiveram vinculados à conspiração civil-militar que levou ao golpe de Estado de 1964. Estavam ligados principalmente ao financiamento do chamado “complexo IPES/IBAD”, cujos recursos advinham, entre outras pessoas jurídicas, da Atlantic Community Development Group for Latin America (ADELA), da qual a Ford Motor era participante, e da American Chamber of Commerce, onde participavam vários diretores da Ford Motor do Brasil (Mario Bardella, Robert F. Carlson, Luiz B. Carneiro da Cunha, Joseph Radleigh Dent, H. H. Eichstaedt, John C. Goulden) [2]. Inclusive, em 1963, o Congresso brasileiro instaurou uma Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar as atividades do IBAD no financiamento da campanha eleitoral anterior. O predidente da CPI foi o deputado federal Rubens Paiva.
Mas o principal nome vinculado à Ford Motor do Brasil com participação no golpe de 1964 foi Humberto Monteiro. Monteiro era membro-diretor da seção de São Paulo do IPES. Também integrava o Sindicato da Indústria de Aparelhos Elétricos, Eletrônicos e Similares do Estado de São Paulo, da American Chamber of Commerce. [3] Monteiro foi secretário da Fazenda do Estado de São Paulo no governo Ademar de Barros e presidente da União Cultural Brasil-Estados Unidos. [4]
Logo após o golpe, em setembro de 1964, chegou ao Brasil, Peter Dexter Bell, um dos mais importantes representantes da Fundação Ford para a área internacional e responsável pela distribuição dos recursos da entidade no país. Antes de ocupar tal posto, Peter Bell havia estagiado na área de Relações de Segurança Internacional do Pentágono. Meses depois da sua chegada ao Brasil, no início de 1965, ele fez sua primeira visita a uma instituição de ensino superior, a Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG. Lá, foi recebido com a explosão de uma bomba, detonada por estudantes a fim de que ele “mantivesse distância”. [5]
É importante relembrar (Cf. Parte 2) que, em 1964, McGeorge Bundy, que assumiria a presidência da Fundação Ford dois anos depois, era Assessor de Segurança Nacional do presidente Lyndon Johnson e uma das suas prerrogativas era monitorar e assessorar as atividades da CIA ao redor do mundo. McGeorge Bundy compôs, também em 1964, um comitê especial da Casa Branca, junto com outros membros do governo e das agências de inteligência, a fim de determinarem ações clandestinas no Chile para auxiliar na eleição de Eduardo Frei.[6] É provável também que, ocupando o cargo, tenha sido um dos formuladores da parceria golpista para o Brasil.
Na mesma época, o irmão de McGeorge, William Bundy, compunha o Comitê Nacional de Avaliação da CIA. Os irmãos Bundy são ainda apontados como os formuladores de falsos pretextos apresentados ao Congresso dos Estados Unidos para justificar a escalada militar do país na Guerra do Vietnã a partir de 1964. [7] McGeorge ficará na presidência da Fundação Ford entre 1966 e 1979, período de maior influência da entidade no Brasil. Portanto, Peter Bell foi o principal representante, no Brasil e na América Latina, da administração de McGeorge Bundy na Fundação Ford.
Seguindo as diretrizes de internacionalização da Fundação, formuladas por Horace Rowan Gaither Jr. depois da Segunda Guerra Mundial (Cf. Parte 2), a principal atividade de Peter Bell no Brasil era promover o financiamento de atividades nos campos social, acadêmico e cultural. No pós-guerra, uma série de colaborações diplomático-empresariais foram firmadas entre o Brasil e os Estados Unidos. Duas delas foram a Comissão Mista Brasil-Estados Unidos para o Desenvolvimento Econômico, criada em 1951, e ligada ao Ponto IV do Plano Marshall [8] e, em 1961, a Aliança para o Progresso. Ambas as parcerias, no entanto, destinavam-se sobretudo ao campo econômico-industrial. Logo, na estratégia da política externa dos Estados Unidos, um dos papéis a ser cumprido pela Fundação Ford no Brasil seria o de atuar em áreas que as iniciativas anteriores não abrangiam e essa foi a atuação de Bell.
Peter Bell ficou no Brasil entre 1964 e 1969 e ele próprio narra que encontrou-se com agentes da CIA por aqui, a pedido do embaixador dos Estados Unidos, a fim de conversarem sobre os financiamentos promovidos pela Fundação Ford. [9]
Em março de 1968, o presidente Arthur da Costa e Silva solicitou ao Congresso uma autorização, em caráter especial, para que a Fundação Ford fosse considerada de “utilidade pública”, o que era uma prerrogativa apenas de entidades nacionais. Na exposição de motivos formulada pelo ministro da Justiça, Luis Antônio da Gama e Silva justifica-se para tal medida em “face aos relevantes serviços prestados pela entidade através da realização de intenso programa social objetivando o bem estar humano…” [10]. Em junho, o Senado aprovou a solicitação do general.
Seis meses depois dessa aprovação, tanto Costa e Silva, como o professor e ex-reitor da USP, Gama e Silva, foram signatários do Ato Institucional n. 5 (AI-5), expressando a preocupação de ambos com o “bem estar humano” no país, promovendo expurgos, torturas, assassinatos, perseguições e toda a sorte de barbárie contra a população organizada contra o regime.
Em 1 de julho de 1969, na esteira do AI-5, foi criada a Operação Bandeirantes e a Ford Motor Co., cuja maior acionista era a Fundação Ford, tornou-se uma das suas principais financiadoras [11]. O intuito central da operação era o extermínio dos militantes comunistas do país. A Ford Motor Co. dispendeu recursos também para a criação dos DOI-CODI, conforme, entre outras fontes, o depoimento à Comissão da Verdade do ex-agente da repressão Merival Chaves, do setor de inteligência do Exército [12]. É desnecessário mencionar aqui as atrocidades perpetradas pelo órgão contra os revolucionários brasileiros do período.
Entre as muitas iniciativas “filantrópicas” da Fundação Ford no Brasil, a mais conhecida foram os recursos que, também em 1969, a entidade destinou à criação do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (CEBRAP), cujo principal pesquisador veio posteriormente a ser presidente do país, o procônsul do império Fernando Henrique Cardoso. O centro foi fundado por professores que haviam sido demitidos da universidade em razão do AI-5 e, no primeiro momento, a embaixada dos Estados Unidos e a CIA no Brasil, talvez um pouco desinformados, viram com preocupação o auxílio da Fundação Ford. Porém, segundo o próprio Peter Bell, depois que ele se reuniu com um agente da CIA no país, a preocupação se desfez e a entidade destinou recursos à criação do centro de pesquisa. [13]
Em entrevista concedida ao jornal O Estado de S. Paulo em 2012, Peter Bell afirmou, com toda razão: “No contexto do período, entendo que alguns brasileiros possam ter desconfiado de mim.” [14]
Conforme o processo de abertura política no país a partir de meados dos anos 1970, a Fundação Ford foi “camaleonicamente” adaptando-se ao novo ambiente e sua nova linha de atuação passou a ser os chamados “direitos humanos”. A quarta e última parte do artigo irá abordar alguns fatos relevantes da história da Fundação Ford dos anos 1970 até os dias atuais. É possível afirmar que também nesse período a promoção do “bem estar humano” e dos “direitos humanos” foi mais uma vez apenas uma cobertura na defesa dos interesses do imperialismo yankee.
NOTAS
[1] – O Estado de S. Paulo, 9 de março 1962
[2] – DREIFUSS, René Armand. 1964: A conquista do Estado – ação política, poder e golpe de classes. Rio de Janeiro: Vozes, 1981.
[3] Idem.
[4] – O Estado de S. Paulo,
[5] – CANEDO, Leticia Bicalho. A Fundação Ford e as Ciências Sociais no Brasil: o papel dos program officers e dos beneficiários brasileiros para a construção de novos modelos científicos.https://leticiabcanedo.wordpress.com/2016/04/25/a-fundacao-ford-e-as-ciencias-sociais-no-brasil-o-papel-dos-program-officers-e-dos-beneficiarios-brasileiros-para-a-construcao-de-novos-modelos-cientificos/ e Entrevista com Peter Bell. O Estado de S. Paulo, 16 set. 2012.http://politica.estadao.com.br/noticias/eleicoes,para-os-eua-brasil-era-campo-de-batalha-na-guerra-fria-imp-,931221
[6] – BANDEIRA, Luiz Alberto Moniz. Formação do Império Americano: da guerra contra a Espanha à guerra do Iraque. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005. p. 259, 318, 772 ; MARCHETTI, Victor & MARKS, John D. The CIA and the cult of intelligence. [S.n.]: Langley, Virginia, 1974.
[7] – BANDEIRA, Luiz Alberto Moniz. Op.cit. p. 259, 318, 772.
[8] – CANEDO, Leticia Bicalho. Op. cit.
[9] – Entrevista com Peter Bell, em O Estado de S. Paulo, 16 set. 2012.http://politica.estadao.com.br/noticias/eleicoes,para-os-eua-brasil-era-campo-de-batalha-na-guerra-fria-imp-,931221
[10] – O Estado de S. Paulo, 23 mar. 1968
[11] – BRASIL. Comissão Nacional da Verdade. Relatório. Brasília: CNV, 2014. Vol. 1. e Vol. 2.
[12] – Comissão Nacional da Verdade. Tomada pública de depoimento de agentes da repressão: Merival Chaves. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=pKcnTDCcDuw (a partir dos 21 minutos)
[13] – CANEDO, Leticia Bicalho. A Fundação Ford e as Ciências Sociais no Brasil: o papel dos program officers e dos beneficiários brasileiros para a construção de novos modelos científicos.https://leticiabcanedo.wordpress.com/2016/04/25/a-fundacao-ford-e-as-ciencias-sociais-no-brasil-o-papel-dos-program-officers-e-dos-beneficiarios-brasileiros-para-a-construcao-de-novos-modelos-cientificos/ ; E Entrevista com Peter Bell, em O Estado de S. Paulo, 16 set. 2012.http://politica.estadao.com.br/noticias/eleicoes,para-os-eua-brasil-era-campo-de-batalha-na-guerra-fria-imp-,931221
[14] – Entrevista com Peter Bell, em O Estado de S. Paulo, 16 set. 2012.http://politica.estadao.com.br/noticias/eleicoes,para-os-eua-brasil-era-campo-de-batalha-na-guerra-fria-imp-,931221

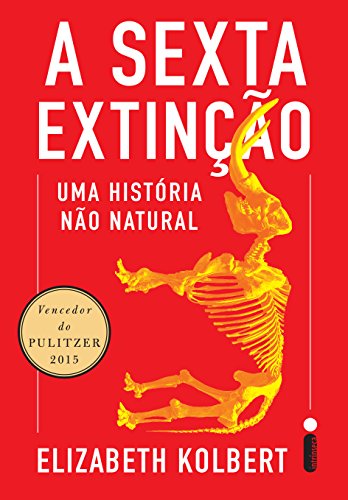











 Em meados do século XX, três livros levaram uma geração a refletir e se interessar pelo Brasil, obras que pareciam exprimir a mentalidade ligada ao “sopro” de radicalismo intelectual e análise social impulsionado após a Revolução de 1930.
Em meados do século XX, três livros levaram uma geração a refletir e se interessar pelo Brasil, obras que pareciam exprimir a mentalidade ligada ao “sopro” de radicalismo intelectual e análise social impulsionado após a Revolução de 1930.

