Repercutindo aqui no Hum Historiador o texto indispensável do amigo, e também historiador, Marcus Correia, que acaba de ser censurado pelo Facebook. Simplesmente, sem mais nem menos, os posts que estavam circulando amplamente por aquela rede social foram excluídos.
Sem mais delongas, seguem as Partes I e II do texto que foram originalmente publicadas no site Esquerda Online em 10 e 13 de dezembro de 2016, respectivamente.
DISCUTINDO A FUNDAÇÃO FORD (PARTES 1 e 2 de 4)
por Marcus Correia
PARTE I

É espantoso como entidades, ONGs, ativistas e pesquisadores no Brasil, identificados com a esquerda, em sentido amplo, ainda hoje permanecem recebendo recursos da Fundação Ford, mesmo diante de tantas informações e pesquisas disponíveis a propósito da estreita relação existente entre essa entidade, a política externa dos Estados Unidos e seus órgãos de inteligência.
Pressupondo que a razão para esse aparente paradoxo político decorra apenas de um profundo desconhecimento de fatos básicos da história dessa instituição, este artigo procura reunir alguns desses fatos, a maior parte deles recolhidos de importantes trabalhos já publicados.
O artigo apresenta-se dividido em quatro partes: a primeira aborda os primeiros anos da Fundação, do período que vai da sua criação no ano de 1936 até o término da Segunda Guerra Mundial em 1945; a segunda parte se debruça sobre o período entre o início da chamada Guerra Fria até os anos de 1960; a terceira traz fatos a respeito da atuação da Fundação Ford no Brasil, sobretudo, durante a ditadura militar; a quarta parte aborda as atividades da Fundação Ford dos anos 1970 até os dias atuais.
Cabe observar que, nesse delicado momento atual do país, é cada vez mais relevante que se avolumem discussões sobre o imperialismo, uma vez que, ao que consta, o Brasil não é o centro do capitalismo global e está mais sujeito às suas intempéries do que parece a muitos analistas da esquerda autóctone. E aqueles que não concordarem com essa breve história da Fundação Ford, que contem outra mais idílica.
As origens: de 1936 a 1945
Em uma cerimônia solene ocorrida na cidade de Dearborn, em Michigan, nos Estados Unidos, no dia 30 de julho de 1938, o cônsul da Alemanha acreditado em Cleveland, Karl Krapp, e seu congênere em Detroit, Fritz Heller, presentearam o industrial estadunidense Henry Ford pelo dia do seu aniversário. A pedido do führer, ofereceram-lhe a Grã-Cruz da Ordem da Águia Alemã (Großkreuz des Deutschen Adlerordens). Essa alta condecoração do Estado alemão havia sido criada no ano anterior por Adolf Hitler com o intuito de homenagear estrangeiros que desfrutavam da sua admiração. Outros dois indivíduos que receberam a referida medalha honorífica foram Benito Mussolini e o espanhol Francisco Franco.
Adolf Hitler há muito manifestava uma forte simpatia por Henry Ford e manteve uma foto dele em seu escritório em Munique. No início dos anos 1920, Henry Ford escreveu execráveis escritos antisemitas, os panfletos The International Jews: The World`s Problem, transformados ulteriormente em livro e que inspiraram o líder nazista na sua perseguição implacável aos judeus na Europa. Traduzidos para a língua alemã, os escritos de Ford tiveram ampla circulação nos meios nazistas antes de 1933. Por essa razão, a primeira edição de Mein Kampf Hitler, dedicou a Henry Ford.
Afora as concepções lunáticas da existência de uma conspiração judaico-comunista internacional contra a qual ambos lutavam, a admiração de Hitler por Henry Ford advinha também dos métodos de racionalização industrial. Essa racionalização serviria como exemplo tanto ao modelo industrial do Reich, como ao sistema, igualmente fabril, de extermínio bárbaro de milhões de pessoas em campos de concentração, a exemplo de Auschwitz, Sobibor e Treblinka.
Desde os anos 1920, Ford vinha contribuindo com o financiamento do Partido Nacional-Socialista na Alemanha e enviava de 10 a 20 mil marcos alemães como presente de aniversário para Adolf Hitler todos os anos, até 1944. [1]
Nos Estados Unidos, Henry Ford manteve um sistema conhecido pelos críticos como a “Gestapo de Ford”, o que também lhe rendeu o apelido dado pelo New York Times, em 1928, de “Mussolini do Highland Park” [2].
Ford, além de perseguir e reprimir sindicalistas, organizou um sistema de vigilância e controle da vida privada de seus funcionários, por meio da criação de um Departamento de Sociologia da Ford Motor Company. Tal órgão procurava intervir nos aspectos privados dos trabalhadores das fábricas, como moradia, alimentação, lazer e modo de vida. Ford até mesmo contratou um ex-pugilista que serviu como “fiscalizador” do serviço privado de repressão política e social aos trabalhadores da Ford em Dearborn e que lhes fazia visitas inesperadas em seus lares. [3]
A condecoração de Henry Ford com o maior título honorífico dado a estrangeiros pelo governo nazista nada mais foi do que um reconhecimento inter pares. Dois anos antes, no início de 1936, Edsel Ford, filho de Henry Ford e então presidente da Ford Motor Company anunciou a criação da Fundação Ford, que tinha por objetivo dispender recursos “à caridade, à educação e à ciência”. Mas, de fato, a criação da fundação filantrópica familiar servia a interesses econômicos muito claros aos contemporâneos.
Em 1934, um grupo de empresários, banqueiros e oficiais militares estadunidenses patrocinaram uma tentativa de golpe de Estado contra o presidente Franklin D. Roosevelt, golpe esse que visava à instauração de um regime filofascista nos Estados Unidos.[4]
Malfadada a tentativa de golpe contra Roosevelt e no contexto econômico do New Deal, em 1935, o Congresso dos Estados Unidos aprovou o Revenue Act, uma espécie de taxação de grandes fortunas que chegava à casa dos 70%. [5]
O maior prejudicado com a nova legislação seria justamente a multimilionária família Ford. Para dissimular do fisco a cobrança dos novos impostos foi, portanto, criada a Fundação Ford, transferindo-se, assim, 90% das ações da Ford Motor Co. pertecentes à família para a nova entidade “filantrópica”.
Desde então, diferentemente do que se pensa, a Fundação Ford tornou-se a proprietária da Ford Motor Company. [6]
Os três únicos diretores da Fundação Ford no período eram Edsel Ford, presidente da Ford Motor Co. e igualmente presidente da Fundação; Bert J. Craig, secretário e tesoureiro da Ford Motor Co; e Clifford Longley, advogado da Ford Motor Co.
Pressionada pelo governo a dar, então, início a qualquer atividade filantrópica de relevo, a Fundação Ford anunciou, em dezembro de 1937, a doação de um terreno em Dearborn, Michigan, EUA, para a construção de quatro mil “moradias modelo” para operários locais. A Ford doou o terreno e o projeto, enquanto a construção ficaria a cargo de outros empresários que tivessem interesse no empreendimento.
Originalmente anunciado como filantropia a operários, pelos baixos custos de aluguel ou venda, logo o projeto foi desconfigurado, tornando-se um empreendimento imobiliário de mais alto padrão, com centro de negócios, escolas, clínicas médicas, lojas, entre outros. De acordo com uma matéria da época, a iniciativa passou a beneficiar trabalhadores de “white collar”, conforme a expressão do jornal [7].
Essa foi a única iniciativa “filantrópica” da entidade que teve ampla repercussão antes de 1945. O real interesse por trás da criação da Fundação, i.e., dissimular a fortuna familiar adquirida ao longo dos anos de exploração da classe trabalhadora pela Ford Motor Co., fez com que ela permanecesse inexpressiva nas suas ações “humanitárias” durante os primeiros dez anos de existência.
Já na Europa, a Ford Motor Co. mantinha fortes investimentos econômicos desde os anos 1920. Em particular, na Inglaterra e na Alemanha. Neste último, encontrou certas dificuldades decorrentes da ascensão do nacionalismo de ultra-direita no país, uma vez que parte da população sabotava a compra de produtos de empresas estrangeiras. Mesmo assim, a relação com o governo nazista que ascendeu em 1933 era mais amena e a Ford fabricou um terço dos caminhões do exército nazista, por exemplo, e dobrou de tamanho na Alemanha entre 1939 e 1945 [8].
Entre 1941 e 1945, a subsidiária da Ford Motor Co. em Colônia, na Alemanha, a FordWerke, utilizou, inclusive, trabalho escravo de presos estrangeiros e judeus, oriundos da Europa Oriental, da União Soviética, da Itália e da França [9].
Esses são alguns poucos e relevantes fatos do período de origem da Fundação Ford. Frente à oposição política que a família Ford mantinha ao governo de Franklin D. Roosevelt, até o final da II Guerra, a Fundação não atuou em parceria com o governo dos Estados Unidos. E suas atividades de caridade restringiam-se a poucas iniciativas em Michigan. A relação estreita com o Departamento de Estado e os órgãos de inteligência estadunidenses passaria a ocorrer a partir do início da chamada Guerra Fria.
NOTAS DA PARTE I:
1 – BANDEIRA, Luiz Alberto Moniz. A Desordem Mundial: o espectro da total dominação. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2016. p. 44-46
2 – SAGER, Geshe. Henry Ford und die Nazis – Der Diktator von Detroit. Spiegel Online, 29, jul. 2008.
3 – Idem.
4 – BANDEIRA, Luiz Alberto Moniz. Op. cit. p. 44-46
5 – CHAVES, Wanderson da Silva. O Brasil e a recriação da questão racial no pós-guerra: um percurso através da história da Fundação Ford. Tese (Doutorado). Programa de Pós Graduação em História Social, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo. São Paulo, 2011. p. 26-27
6 – Idem. p. 26-27
7 – De La Crosse Tribune, La Crosse, Winconsin, EUA, 6 jul. 1939.
8 – LIMA, Cláudia de Castro. Os aliados ocultos de Hitler. Revista Super Interessante.
9- REICH, Simon. Tha Nazi Party: Ford Motor Company and the Third Reich. Jewish Virtual Library. A própria Ford Motor Co. em 1998 abriu um amplo processo de investigação interna sobre a conduta da sua subsidiária na Alemanha, provocada por processos legais de sobreviventes do Holocausto que foram movidos contra a empresa por haverem trabalhado como escravos na FordWerke.
PARTE II

Pós-Guerra e Guerra Fria: de 1945 aos anos 1960
Com o término da Segunda Guerra Mundial, grandes empresários e financistas estadunidenses, muitos dos quais haviam apoiado a ascensão do nazi-fascismo na Europa, bem como muitos quadros técnicos do partido nazista alemão, passaram a colaborar com os Estados Unidos num esforço pela hegemonia global e pelo combate à expansão do comunismo. Entre os frustrados com a derrota nazi-fascista encontrava-se a família Ford, que passaria então a atuar junto à política externa dos Estados Unidos a fim de justificar a série de isenções de impostos que obtivera com a criação da sua fundação “filantrópica” em 1936.
Em 1943, porém, faleceu Edsel Ford, o primeiro presidente da Fundação e presidente da Ford Motor Co. O patrono, Henry Ford, faleceu quatro anos depois, em 1947. Por esta razão, as presidências da Fundação Ford e da Ford Motor Co. ficaram a cargo do filho de Edsel, Henry Ford II. Ele é quem vai reestruturar a Fundação Ford, fazendo com que a entidade passasse a atuar na política internacional, como ocorre ainda hoje.
O intuito aqui não é o de enumerar as diversas atividades e financiamentos promovidos pela Fundação Ford ao longo dos anos, porque isso excederia muito os objetivos desse artigo, não havendo, ademais, um levantamento exaustivo dessas atividades. Optou-se apenas pela apresentação de dados dos principais indivíduos que compuseram o staff da Fundação Ford, destacando suas relações com o aparato estatal dos Estados Unidos e seu complexo industrial-militar-acadêmico.
A partir de 1947, no contexto do lançamento da Doutrina Truman, a Fundação Ford passou por uma reestruturação que, em razão da sua expansão à atuação internacional, necessitava operar em parceria com o Departamento de Estado e os órgãos de inteligência dos Estados Unidos, como com a recém-fundada Agência Central de Inteligência, a CIA.
Essas novas diretrizes da entidade foram elaboradas por um conjunto de indivíduos, entre os quais o então presidente da entidade, Henry Ford II, Ernest Kanzler, antigo executivo da Ford Motor Co.,Donald K. David, da Harvard Business School, e Karl T.Compton, presidente do Massachusetts Institute of Technology. Mas, o principal formulador da perspectiva de internacionalização da Fundação foi Horace Rowan Gaither Jr.
Durante a Segunda Guerra Mundial, Donald David e Karl Compton eram elementos de ligação entre a industria armamentista e as pesquisas acadêmicas nos Estados Unidos [1]. Já Horace Rowan Gaither Jr. era um executivo de corporações privadas ligadas ao Departamento de Defesa e ao Exército dos Estados Unidos, como a RAND Corporation e MITRE Corporation [2].
O primeiro presidente da Fundação, fora dos quadros de diretores da Ford Motor Co.,foi Paul G. Hoffmann. Entre 1948 e 1950, Paul Hoffmann havia sido diretor-chefe da Administração de Cooperação Econômica, organismo que administrava o Plano Marshall na Europa depois da Guerra [3]. No período em que ocupou a presidência da Fundação Ford, apareceram as primeiras denúncias da relação entre a entidade e atividades clandestinas do serviço secreto estadunidense no exterior.
Em dezembro de 1951, por exemplo, o presidente Harry Truman nomeou como embaixador na União Soviética George F. Kennan. Kennan era um especialista em política soviética e foi o formulador da política de “contenção” do comunismo. Em 1944, Kennan já havia composto a embaixada dos Estados Unidos em Moscou. Quando retornou aos Estados Unidos, em 1946, ocupou cargo no Colégio de Guerra e no Departamento de Estado. Entre 1949 e 1950, Kennan “licenciou-se” das suas funções públicas, passando a trabalhar para a Fundação Ford, no seu Fundo do Oriente Europeu para o Entedimento Internacional.
Quando foi novamente nomeado ao cargo de embaixador em Moscou no final do ano de 1951, o Pravda, órgão oficial de imprensa soviética, denunciou Kennan como sendo o responsável pela distribuição de fundos da Fundação Ford para auxiliar “organizações anti-soviéticas” [4]. A nota dizia ainda que o objetivo de tais doações era o de “fomentar atividades clandestinas” no país [5].
Em 1952, com a campanha presidencial do ex-comandante supremo das Forças Aliadas na Europa e ex-comandante supremo da OTAN, o general Dwight Eisenhower, Paul Hoffmann fundou, e igualmente presidiu, a Liga dos Cidadãos Favoráveis a Eisenhower. No mesmo ano, Hoffman trouxe para a Fundação Ford ninguém menos que Richard Bissel, chefe do serviço clandestino da CIA [6] e que havia trabalhado com ele na administração do Plano Marshall. Como membro da agência de inteligência, Richard Bissel era muito próximo de Allen Dulles, que, com a administração Eisenhower, tornou-se o diretor geral da CIA. Bissel recebeu o convite de Dulles para ser seu principal assistente na agência em 1954 e deixou a Ford. [7] Na Fundação, Bissel obteve o auxílio de Allen Dulles e outros altos oficiais colegas seus da CIA na formulação de várias ações da Fundação Ford pelo mundo [8].
Também em 1953, ingressou na Fundação Ford, Frank Lindsay, antigo veterano do OSS – Office of Strategic Service (órgão precursor da CIA). Como Bissel, Lindsay foi um dos primeiros formuladores, em 1947, de técnicas de operações encobertas do serviço secreto dos Estados Unidos. Lindsay foi levado para a Fundação Ford por um de seus diretores, Waldemar Nielsen, também um agente da CIA [9].
Em 1954, foi empossado o novo presidente da Fundação Ford: John McCloy. Antes de ocupar esse cargo, McCloy havia sido Secretário Assistente do Ministério da Guerra dos Estados Unidos durante a II Guerra Mundial. Depois do conflito, foi Alto Comissário da Alemanha ocupada, foi presidente do Banco Mundial e presidente do Chase Manhattan Bank, pertencente à família Rockefeller. Além de ser diretor de grandes corporações, McCloy foi advogado em Wall Street, representando nessa posição as maiores empresas petrolíferas dos Estados Unidos. Como Alto Comissário da Alemanha ocupada, trabalhou junto com os órgãos de inteligência dos Estados Unidos na Europa no final da Segunda Guerra Mundial, período em que vários quadros técnicos do nazismo passaram a trabalhar para os Estados Unidos [10].
Em 1953, com John McCloy a frente da Fundação Ford, Shepard Stone também ingressou na instituição na área de Relações Internacionais. Shepard Stone havia trabalhado com McCloy como assessor de relações públicas no período em que o segundo fora alto comissário da ocupação da Alemanha depois da Guerra e, depois de ter “recusado” ocupar um cargo na área de operações psicológicas (psy-ops) na CIA, passou a trabalhar para a Fundação Ford [11].
O presidente seguinte da Fundação Ford foi Horace Rowan Gaither Jr. Além de ter sido o responsável pela formulação das diretrizes que estabeleceram o vínculo entre a entidade e o aparato estatal estadunidense em 1947, uma ação sua que vale menção foi que, em novembro de 1957, o presidente Eisenhower encarregou um grupo de cientistas para um estudo, altamente sigiloso, a respeito de possíveis ataques nucleares da União Soviética contra os Estados Unidos. Foi encarregado da presidência do grupo de pesquisadores justamente Horace Rowan Gaither Jr, [12].
O relatório final do grupo, apresentado ao Conselho Nacional de Segurança e ao Departamento de Defesa, previa que, sob risco de uma ameaça nuclear soviética, era necessário um forte aumento dos gastos militares pelos próximos treze anos, ou seja, até 1970, [13], o que fortaleceu a posição do complexo industrial-militar e, em particular, da indústria bélica.
Nesse mesmo ano em que Horace Rowan Gaither Jr. ocupava a presidência da Fundação Ford, em fevereiro, o ministro das Relações Exteriores da União Soviética, Dmitri Shepilov, havia apresentado uma nota à imprensa internacional em Moscou em que denunciava que “organismos oficiais do governo dos Estados Unidos desenvolvem atividades subversivas e de espionagem, sob o disfarce de toda sorte de comissões, fundações e instituições particulares”. A nota citava como cobertura do serviço secreto a Fundação Ford, a Fundação Rockefeller e a Fundação Carnegie. A nota ainda dizia que a chamada “libertação das democracias populares” havia se convertido na “pedra fundamental da política exterior norte-americana” [14]
Depois de H. Rowan Gaither Jr. o presidente da Fundação Ford foi Henry T. Heald, que ficará no cargo até 1965. Não existem muitos dados a respeito da sua relação com o aparato estatal e de inteligência dos Estados Unidos, apenas que era um indivíduo igualmente vinculado ao chamado complexo industrial-militar-acadêmico estadunidense, uma vez que, entre 1940 e 1952, presidiu o Illinois Institute of Technology [15]. Mas é lícito afirmar que essa relação não deixou de acontecer durante sua administração como presidente da Fundação, a exemplo da atuação da entidade no Brasil desde 1961, como se verá na próxima parte do artigo.
Em 1966, McGeorge Bundy tornou-se presidente da Fundação Ford, ficando no cargo até 1979.Imediatamente antes de ocupar a presidência da Fundação Ford, McGeorge foi Assistente de Segurança Nacional dos presidentes John F. Kennedy e Lyndon Johnson, cargo que,entre outras funções, tinha como prerrogativa o monitoramento das atividades da CIA.
Bundy também havia trabalhado na organização do Plano Marshall e, posteriormente, como reconhecido intelectual de política exterior nos meios conservadores nos Estados Unidos, a ele e ao irmão também é atribuída a formulação de falsos pretextos que justificaram ao Congresso a escalada militar do país na Guerra do Vietnã em 1964 [17].
No mesmo ano, McGeorge Bundy compôs um comitê do governo para formular ações encobertas no Chile para a eleição de Eduardo Frei.[18]. Seu irmão, William Bundy, era membro do Conselho de Avaliação Nacional da CIA e genro do antigo secretário de Estado Dean Achenson [19].
Os dados aqui apresentados são apenas breves exemplos. O fato é que a maior parte dos funcionários de alto escalão da Fundação Ford entre 1945 e 1979 eram ou tinham sido agentes, tinham ligações com agentes ou trabalhavam em profunda conexão com a CIA, com o Pentágono, com o Departamento de Estado e com o alto escalão do complexo indutrial-militar privado dos Estados Unidos. Essas redes de relações do poder imperialista foram estabelecidas durante a Segunda Guerra Mundial e, no pós-Guerra e na Guerra Fria, estenderam-se e aprofundaram-se em decorrência da disputa contra a União Soviética por hegemonia global.
Conforme aponta ainda Frances Stonor Saunders, um dos intuitos principais que movia a relação orgânica entre a Fundação Ford, a CIA e o Departamento de Estado era livrar-se de eventuais embaraços na política interna dos Estados Unidos em relação a ações de inteligência no exterior. As fundações, em particular, a Fundação Ford, e outras entidades privadas, desburocratizavam ações sigilosas (na maioria das vezes ilegais) em outros países, sobretudo, na área cultural e de operações psicológicas (psy-ops), uma vez que não precisavam prestar contas das suas ações ao Congresso do país.
NOTAS DA PARTE II:
1– CHAVES, Wanderson da Silva. O Brasil e a recriação da questão racial no pós-guerra: um percurso através da história da Fundação Ford. Tese (Doutorado). Programa de Pós-Graduação em História Social, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo. São Paulo, 2011. p. 28
2 – CHAVES, Wanderson da Silva. Idem.p.28 ;História da RAND Corporation no seu sítio eletrônico.
3 – O Estado de S. Paulo, 18 mar. 1952
4 – O Estado de S. Paulo, 28 dez. 1951
5 – Jornal do Brasil, 28 dez. 1951, p. 7.
6 – BANDEIRA, Luiz Alberto Moniz. Formação do Império Americano: da guerra contra a Espanha à guerra do Iraque. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005. p. 655 ; MARCHETTI, Victor & MARKS, John D. The CIA and the cult of intelligence. [S.n.]: Langley, Virginia, 1974. Este último livro traz muitas informações sobre Bissel.
7 – STONOR, Francis Saunders. The Cultural Cold War: the CIA and the world of arts and letters. New York/London: The New Press, 1967.
8 – STONOR, Francis Saunders. Op. Cit. ; PETRAS, James. The Ford Foundation and the CIA. Rebellion, 5 dez. 2001.
9 – STONOR, Francis Saunders. Op. cit. p. 119
10–Biografia de John McCloy no sítio eletrônico do Bando Mundial; PETRAS, James. The Ford Foundation and the CIA. Rebellion, 5 dez. 2001; STONOR, Francis Saunders. Op. cit. p. 120.
11–; STONOR, Francis Saunders. Op. cit. p.120
12 – O Estado de S. Paulo, 27 nov. 1957, p. 2
13 – O Estado de S. Paulo, 21 dez. 1957, p.5
14 – O Estado de S. Paulo, 7 de fev. 1957, p. 2
15 – Henry T Heald
16 – BANDEIRA, Luiz Alberto Moniz.Op. cit. p. 270,318, 772.
17 – MARCHETTI, Victor & MARKS, John D.Op. Cit. Este livro traz muitas referências sobre os irmãos Bundy.
18 – STONOR, Francis Saunders. Op. Cit. BANDEIRA, Luiz Alberto Moniz. Op. Cit.; MARCHETTI, Victor & MARKS, John D. The CIA and the cult of intelligence. [S.n.]: Langley, Virginia, 1974

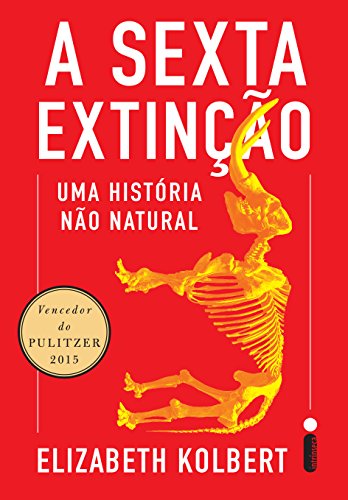


 Danny Glover em viagem pelo Brasil. Foto: Rafael Stedile
Danny Glover em viagem pelo Brasil. Foto: Rafael Stedile


 André Godinho é historiador.
André Godinho é historiador.
 Paul Craig Roberts também toca em outro assunto bastante importante que é o fracasso total da economia de livre mercado, em que “capitalistas, com a aprovação da corrupta Suprema Corte dos EUA, podem comprar o governo, que os representa, e não o eleitorado. Assim, a tributação e o poder de criação de dinheiro do governo são usados para bancar poucas instituições financeiras às custas do resto do país. É isso o que significa “mercados autorregulados””.
Paul Craig Roberts também toca em outro assunto bastante importante que é o fracasso total da economia de livre mercado, em que “capitalistas, com a aprovação da corrupta Suprema Corte dos EUA, podem comprar o governo, que os representa, e não o eleitorado. Assim, a tributação e o poder de criação de dinheiro do governo são usados para bancar poucas instituições financeiras às custas do resto do país. É isso o que significa “mercados autorregulados””.